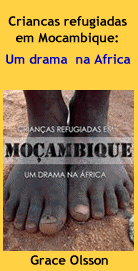Fonte: The New York Times, em 29/12/2011
Até mesmo em uma cidade que abraçou tantas ondas de latinos a ponto de ser tratada como brincadeira de única capital sul-americana na América do Norte, nenhum grupo tem sido tão cortejado e paparicado quanto os brasileiros.
Cheios de dinheiro de uma economia em boom e apaixonados pelo luxo, os brasileiros estão visitando o sul da Florida em grande número e gastando milhões de dólares em imóveis de férias, roupas, joias, móveis, carros e arte, tudo muito mais barato aqui do que no Brasil.
Como agradecimento, os cidadãos da Flórida estão criando modos inovadores de deixar os brasileiros de língua portuguesa contentes. Corretores imobiliários, por exemplo, formaram empresas que reúnem em uma só parada decoração de interiores, serviços de concierge, assessoria jurídica e ajuda com vistos. Alguns corretores abriram escritórios no Brasil para simplificar o processo.
Cientes de que os brasileiros não gastarão à vontade a menos que se sintam em casa, os shoppings centers os atraem com funcionários que falam português para venderem vestidos Dulce & Gabbana e relógios Hublot. Até mesmo a Target coloca avisos de contratação de funcionários em português.
Os restaurantes brasileiros também estão florescendo por toda Miami, incluindo uma rede popular do Brasil –a Giraffas– que oferece pão de queijo brasileiro e cortes especiais de carne.
“Hola” e beijos no ar ainda são o padrão aqui, mas o “Oi” está perceptivelmente avançando.
“Nós viemos para Miami para investir, porque no meu país os imóveis residenciais estão muito caros”, disse Claudio Coppola Di Todaro, um investidor de fundo hedge de São Paulo, que comprou recentemente um apartamento nas Trump Towers, em Sunny Isles Beach, e outro na Trump SoHo, em Manhattan (os brasileiros também adoram Nova York). “Nós gostamos de passar férias em Miami algumas vezes por ano. Muitos brasileiros fazem isso agora.”
Enquanto os Estados Unidos e a Europa continuam enfrentando uma recessão, a economia do Brasil continua galopando à frente, movida pelas exportações, uma crescente base manufatureira e recursos naturais abundantes. O desemprego em outubro era de 5,8% e nesta semana o Brasil ultrapassou o Reino Unido, se transformando na sexta maior economia do mundo.
Os brasileiros atentos a grifes adoram usar seu dinheiro (em espécie, acima de tudo), figurando em primeiro lugar per capita em gastos entre os 10 principais grupos de turistas estrangeiros nos Estados Unidos, uma lista que inclui franceses, britânicos e alemães. Ao todo, 1,2 milhão de brasileiros visitaram em 2010 e gastaram US$ 5,9 bilhões, ou US$ 4,940 por visitante. Apenas turistas da Índia e da China gastam mais que os brasileiros, mas eles são em número bem menor e não figuram entre os 10 mais.
O Departamento do Comércio espera que o número total de turistas brasileiros será ainda maior neste ano.
O impacto econômico dos brasileiros é tão grande que os setores de turismo, restaurante e varejo, juntamente com a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, estão fazendo lobby em Washington para permitir que os brasileiros viajem sem a necessidade de visto, como podem os cidadãos dos países da União Europeia. Em novembro, o Departamento de Estado concordou em aumentar o número de consulados para acelerar o procedimento de visto.
A American Airlines tem 52 voos por semana de cinco cidades no Brasil para Miami e fez pedido para mais rotas.
A Flórida é o Estado que mais se beneficia com a nova riqueza do Brasil e com o crescimento de sua classe média. A maioria dos brasileiros que vêm aos Estados Unidos visita a Flórida, e nos primeiros nove meses deste ano, cerca de 1,1 milhão de brasileiros gastaram US$ 1,6 bilhão no Estado, um aumento de quase 60% em comparação ao ano anterior. Entre os países estrangeiros, apenas o Canadá envia mais visitantes à Flórida.
O dinheiro dos brasileiros ajudou a ressuscitar o mercado imobiliário em Miami. Estrangeiros são responsáveis por mais da metade de todas as vendas de imóveis em Miami, e prédios de apartamentos que antes estavam vazios estão esgotando rapidamente.
“De muitas formas, os brasileiros têm sido a salvação aqui”, disse Edgardo Defortuna, presidente da Fortune International Realty, que tem escritórios no Brasil e em Miami. “O preço não é um problema para eles.”
Os brasileiros entram aqui no estilo de vida latino-americano –jantares tarde da noite e moda, alimentos e música familiares. E a relativa segurança dos Estados Unidos é um bônus. A taxa de homicídios do Rio de Janeiro, apesar de em queda, é quase três vezes maior do que a de Miami.
Ávidos por fazer compras e passar tempo com parentes e amigos, os brasileiros costumam comprar apartamentos no mesmo prédio, como o W em South Beach.
“Em Miami, eles podem vir e usar relógios caros, andar em seus conversíveis e ninguém cortará o braço deles para roubar uma joia, como acontece em casa”, disse Alexandre Piquet, um advogado brasileiro da Piquet Realty, que foi fundada por seu irmão, Cristiano, um conhecido piloto de corrida. “Aqui não temos que nos preocupar com crianças atravessando a rua e sendo sequestradas, alguns dos problemas que ainda enfrentamos lá. É a realidade.”
A Piquet Realty, aberta em 2005, dobrou seus negócios no ano passado, disse Cristiano Piquet. Alguns apartamentos que ele vende são entregues plenamente mobiliados pela Artefacto, uma proeminente empresa brasileira de design de móveis. Se os brasileiros precisam de ajuda com transações legais, impostos ou orientações sobre imigração, a empresa também oferece. Se um cliente quiser uma Ferrari, a Piquet Realty também providencia.
Como muitas empresas no sul da Flórida, a empresa promove agressivamente a si mesma no Brasil, como a junta de turismo de Miami. O governador da Flórida, Rick Scott, viajou ao Brasil neste ano em uma missão comercial.
Agora, Orlando está tentando atrair os brasileiros, que preferem os shoppings da cidade a seus parques temáticos. A Pegasus Transportation opera visitas regulares a shoppings, levando milhares de brasileiros a eles. O outlet da grife de moda Tommy Hilfiger e a loja de eletrônicos H.H. Gregg abrem cedo apenas para eles.
“Eles estão comprando tudo o que é imaginável”, disse Claudia Menezes, vice-presidente da Pegasus. “Laptops, câmeras, roupas de grife –muito Prada e Louis Vuitton.”
O gosto por gastar é o principal motivo para a batalha dos vistos estar começando a repercutir no Capitólio.
Há apenas quatro consulados americanos no Brasil, um país quase do mesmo tamanho dos Estados Unidos. Para obter um visto, muitos brasileiros precisam viajar longas distâncias para ser entrevistados no consulado. Apesar do processo oneroso, foram feitos 820 mil pedidos de visto neste ano, com uma média de espera de 50 dias –tempo demais, dizem autoridades de turismo.
Os lobistas estão pressionando o Congresso e o Departamento de Estado para mudar o processo. Caso isso não seja possível, eles pedem por mais consulados e um programa que possibilite a seleção dos requerentes de visto por meio de videoconferência. Sete projetos de lei estão tramitando no Congresso a respeito da questão do visto.
Enquanto isso, dizem as autoridades de turismo, a Europa atrai um grande número de brasileiros porque viajar para lá é muito mais fácil. A Europa Ocidental recebe 52% de todos os brasileiros que viajam ao exterior e os Estados Unidos recebem 29%.
“Seria possível dobrar o número de brasileiros nos Estados Unidos” se o visto não fosse necessário, disse Patricia Rojas, vice-presidente da Associação de Turismo dos Estados Unidos. “Nós estamos em grande desvantagem.”
“Eles estão comprando tudo o que é imaginável”, disse Claudia Menezes, vice-presidente da Pegasus. “Laptops, câmeras, roupas de grife –muito Prada e Louis Vuitton.”
O gosto por gastar é o principal motivo para a batalha dos vistos estar começando a repercutir no Capitólio.
Há apenas quatro consulados americanos no Brasil, um país quase do mesmo tamanho dos Estados Unidos. Para obter um visto, muitos brasileiros precisam viajar longas distâncias para ser entrevistados no consulado. Apesar do processo oneroso, foram feitos 820 mil pedidos de visto neste ano, com uma média de espera de 50 dias –tempo demais, dizem autoridades de turismo.
Os lobistas estão pressionando o Congresso e o Departamento de Estado para mudar o processo. Caso isso não seja possível, eles pedem por mais consulados e um programa que possibilite a seleção dos requerentes de visto por meio de videoconferência. Sete projetos de lei estão tramitando no Congresso a respeito da questão do visto.
Enquanto isso, dizem as autoridades de turismo, a Europa atrai um grande número de brasileiros porque viajar para lá é muito mais fácil. A Europa Ocidental recebe 52% de todos os brasileiros que viajam ao exterior e os Estados Unidos recebem 29%.
“Seria possível dobrar o número de brasileiros nos Estados Unidos” se o visto não fosse necessário, disse Patricia Rojas, vice-presidente da Associação de Turismo dos Estados Unidos. “Nós estamos em grande desvantagem.”